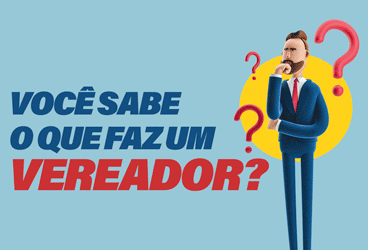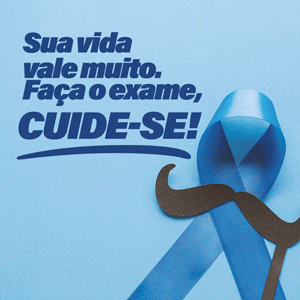André Ribeiro foi um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro nos anos 1990. Vice-campeão da Indy Lights em 1994, o paulista fez quatro temporadas de CART, vencendo com a modesta Tasman a Rio 400, etapa do campeonato disputada no Rio de Janeiro. Mas aquela não foi qualquer vitória. Em um grid repleto de grandes nomes e uma pista traiçoeira com mescla de oval e circuito misto, Ribeiro se tornou, 25 anos atrás, o primeiro piloto brasileiro a vencer uma grande corrida em casa desde a morte de Ayrton Senna, que havia triunfado no GP do Brasil de F1 de 1993. Uma catarse nacional.
Largando em terceiro, o paulista saltou para a liderança com o abandono de Greg Moore e precisou de muito sangue frio para lidar com uma relargada nas voltas derradeiras, tendo de segurar o lendário Al Unser Jr. No fim, Ribeiro venceu, para a festa do público brasileiro que voltava todas as atenções para a prova.
Em 2016, em longa e exclusiva entrevista concedida ao GRANDE PRÊMIO, o ex-piloto contou todos os detalhes daquela prova, a imagem da traseira do Vectra que não fugia da memória, a ansiedade que o seguiu durante toda a semana de corrida, a fé que sempre o acompanhou e comentou que a ficha da vitória ainda seguia caindo. Na entrevista, André detalhou a transição das pistas para os escritórios e deu seu ponto de vista sobre a Indy e o automobilismo brasileiro.

Antes mesmo do início da conversa em seu escritório, em São Paulo, André chegou com uma enorme pasta cheia de relatos de jornais sobre sua vitória no Rio. Capa, matéria principal, ‘O Globo’, ‘Estado de S. Paulo’, ‘Folha de S.Paulo’. Assim, surgia o gancho para a primeira pergunta de um longo papo. E o GP, em homenagem a André Ribeiro, recorda como foi a entrevista.

GRANDE PRÊMIO — Como foi a repercussão do evento e da sua vitória no Rio?
ANDRÉ RIBEIRO — A importância da Rio 400 foi crescendo por um somatório de coisas: a morte do Ayrton alguns anos antes, a F1 ter perdido um símbolo daquele tamanho para o Brasil e não ter outro competindo no mesmo nível, a Indy, que tinha um número de brasileiros enorme e muitos com chances de vitória, a categoria que vinha ao Brasil em um oval. Aquilo tudo somado ao fato de um brasileiro ter vencido gerou algo que eu não me lembro de ter visto com qualquer outro esporte. Nunca tinha visto tamanha repercussão.
GP — Como foi a preparação do carro? Como era a pista?
AR — Era uma pista em que a gente nunca havia andado, era muito ondulada – especialmente na reta oposta – e tinha uma característica única: tinha duas retas longas e duas curvas, para oval, muito fechadas. Então, era um acerto totalmente diferente para o carro, uma mistura de oval e circuito misto, algo que não existia na Indy. Foi muito difícil chegar lá e praticamente aprender tudo, já que a simulação na época não era nem de perto o que é hoje.
GP — Você saiu satisfeito do treino classificatório?
AR — Apesar da dificuldade com o acerto, nosso carro andou bem na classificação, fiz o terceiro tempo. Ali deu para ver que tínhamos uma boa performance, além de um bom chassi, o motor Honda estava funcionando muito bem, estávamos logo atrás das Ganassi.
GP — Imaginava que pudesse vencer? Era essa a meta?
AR — Obviamente que a gente gostaria de vencer, mas o evento era tão especial que confesso que não me recordo se a gente tinha a pretensão de ganhar logo de cara. Vencer no seu próprio país, na primeira corrida, é algo que só depois você pode mensurar. Até então era uma coisa inalcançável.
GP — Como você acordou no dia da corrida?
AR — A ansiedade para a corrida no Brasil era absurda. Era totalmente diferente de tudo, mesmo das 500 Milhas de Indianápolis, com toda preparação e atividades que existem lá. Aqui você fica rodeado por pessoas que geralmente não estão com você: minha família, meus amigos, meus patrocinadores, a mídia toda, os fãs, estavam todos na corrida. O grau de ansiedade só aumentava conforme aconteciam as atividades promocionais da semana, eu nunca tive isso em nenhum lugar. Então, eu cheguei no dia da corrida muito tenso, muito ansioso.

GP — O que mais te marcou naquela vitória?
AR — Sentir a energia da torcida, disparado foi o que mais me marcou. Eu já tinha corrido em pistas extremamente cheias como Indianápolis, Michigan e Long Beach, mas a energia que existe no Brasil é algo que eu nunca vi em lugar algum. Lembro que quando o Michael Andretti venceu uma corrida em Nazareth, cidade dele, o pessoal aplaudiu, valeu, mas todo mundo foi para casa e acabou. Aqui, estava todo mundo extasiado, a arquibancada, a área vip, a minha equipe, os meus amigos, meus pais. Ter visto aquele grau de emoção em todo mundo foi totalmente inesquecível.
GP — Teve algum momento em que você errou e pensou que tivesse perdido a corrida?
AR — Vários. A pista, como eu comentei, era cheia de ondulações, especialmente na freada da última curva. Então, se você freasse um pouco antes ou depois, a curva era toda comprometida, especialmente a saída dela. Lembro que duas vezes eu escapei, raspei o muro e, na hora, minha ansiedade cresceu muito.
GP — O que passou pela sua cabeça quando o Greg Moore abandonou e a liderança foi para você?
AR — É engraçado, existem corridas em que tudo acontece contra você, quantas vezes eu já não tive um carro fabuloso e quebrava alguma coisa? Aquele era o meu dia. Não só o Greg Moore, mas também o Gil de Ferran teve problema de combustível, os pilotos que vinham com performance semelhante ou melhor iam todos ficando pelo caminho. É aquilo: quando tem de ser a sua vez, será a sua vez.
GP — E como você ficou com a amarela causada pelo Robby Gordon já nas voltas finais?
AR — Eu achei que já tinha uma liderança folgada para o Al Unser e então veio a batida. Depois, surgiu a dúvida se a corrida acabaria em amarela, mas limparam a pista correndo para voltarem com a bandeira verde no final. Aquilo me causou uma ansiedade absurda. Eu guardo até hoje na minha memória a imagem do Vectra na minha frente. O Pace Car era um Vectra naquela corrida e ele estava absurdamente devagar, já que queriam limpar logo a pista e deixar mais voltas em bandeira verde para o fim. Atrás de mim estava o Al Unser Jr, um supercampeão que queria me pressionar, colocou o carro do meu lado várias vezes, então meu nervosismo ia crescendo, sabia que qualquer mole que eu desse ele iria me passar. Foi o momento mais tenso.
GP — Quando caiu a ficha de que havia vencido uma corrida em casa?
AR — Eu acho que a ficha nunca cai. Consegui coisas muito importantes: a primeira vitória da Honda na Indy, a primeira vitória da Firestone, a primeira vitória da minha equipe, minha primeira vitória, foi algo totalmente inédito. Eu também venci as 500 Milhas de Michigan, mas nada que possa ser comparado com vencer em casa. Pude comemorar com meus pais, meus amigos, com meus patrocinadores, com todos que naquela noite resolveram ir ao Porcão (churrascaria tradicional do Rio de Janeiro). É muito difícil dessa ficha cair. Cada vez que eu relembro aquilo, esse nosso papo, tudo isso me traz memórias e lembranças, eu sinto como se a ficha continuasse caindo aos poucos. Espero que continue caindo para sempre.
GP — Foi o principal momento da sua carreira?
AR — Disparado. Eu lembro que três dias depois da corrida eu seguia sem dormir. Fui ao Programa do Jô, em vários outros programas da época e a excitação era tão grande que eu só consegui voltar a dormir quando fui para os Estados Unidos. A comemoração de todos, a repercussão que deu, eu imagino que nem com um americano vencendo as 500 Milhas de Indianápolis aconteça algo parecido com aquilo da Rio 400.

GP — Como foi trabalhar com a Penske? Mantém contato?
AR — Mantenho muito. Aliás, estive lá um mês atrás na comemoração dos 50 anos da equipe. Foi muito emocionante, muito bacana, um privilégio estar lá. A verdade é que o Roger Penske foi uma grande referência para mim, não apenas por eu ter corrido lá, mas porque ele me deu a oportunidade e investiu financeiramente no início da minha outra carreira, no mundo das concessionárias de automóveis. A Penske para mim foi mais do que um time icônico em que eu pude guiar, mas um divisor de águas, quando eu pude interagir com uma pessoa maravilhosa que me ajudou na passagem de uma carreira para a outra. Guardo um carinho e um respeito absurdo por ele.
GP — Ainda acompanha automobilismo? Gosta?
AR — Depois que parei de guiar, tive duas experiências muito boas que, para mim, completaram meu ciclo no automobilismo. A primeira delas foi com Pedro Paulo Diniz, em que nos juntamos para organizar o Renault Speed Show, com F-Renault, Copa Clio e Superclio. Durante cinco anos a gente cuidou disso e, na minha opinião, não havia categoria de base mais organizada na época. Paralelamente a isso eu tive a chance de assessorar a Bia Figueiredo, na época ainda correndo de kart. Eu e o Augusto Cesário a levamos para Indy, foi bem especial. Então, estando de três formas diferentes envolvido no automobilismo, sinto que completei meu ciclo.
GP — O que mais mudou na Indy em relação aos seus tempos?
AR — Mudou muita coisa. Na minha época, a Indy era multimarcas: quatro ou cinco chassis diferentes, quatro ou cinco motores diferentes, dois fabricantes de pneus, um volume de patrocínios muito grande, esse conjunto de empresas envolvidas trazia uma competitividade imensa. Hoje, a Indy é praticamente monomarca: um pneu, um chassi, dois motores. Não digo que ficou pior ou melhor, mas claramente aí está uma diferença, sinto um pouco de falta de grandes fabricantes competindo entre si.
GP — Qual sua análise do atual momento do automobilismo brasileiro?
AR — Eu nem sei o que dizer. Para mim, o automobilismo nacional está restrito à Stock Car. Talvez a F-Truck, que tem um histórico bacana. Mas as categorias de base passam por muitas dificuldades, sei disso por tudo que me conta o Cesário. Quando corri de F-Ford, quatro saíram daquela geração para F1 ou Indy. Hoje, se alguém consegue ir, por exemplo, da F3 Brasil para a Europa, já é um feito. Vejo o automobilismo nacional refletindo um pouco do momento do Brasil, as coisas não vão muito para frente.
GP — E os brasileiros na Indy? Há pouco tempo o grid estava cheio de brasileiros, hoje estão os dois ‘de sempre’, Tony e Helio, que já se estabeleceram. Por que tão pouca renovação?
AR — Provavelmente pelo motivo que acabei de citar: o automobilismo de base acabou. O Helio e o Tony são da época de F-Ford e de kart fortes. A época deles era praticamente a mesma que a minha, eram outros tempos, em que você tinha alta competitividade no kart e perspectiva de progredir e pouco depois estar na Europa. Lembro que uma média de cinco a dez pilotos iam para a Europa todo ano. Alguns ficam pelo caminho, mas chegar a uma categoria de ponta era muito mais possível. Hoje os custos são absurdos para entrar no kart e mais ainda para progredir em outras categorias.
GP — O que a Indy teria de fazer para ter a popularidade que teve na sua época no Brasil?
AR — Primeiro a Indy precisa voltar a ser popular nos Estados Unidos. A separação de 1996 causou uma confusão imensa na cabeça das pessoas. É impressionante como até em retrospectivas dessa época fica esquisito ver as duas categorias. Então, a Indy precisa resgatar seus valores para ter um campeonato todo forte com os americanos, não apenas a Indy 500 que segue um sucesso total.
GP — A proporção de ovais, circuitos mistos e de rua te agrada?
AR — Na minha época tinha na mesma proporção ovais longos, ovais curtos, circuitos mistos e de rua, o que eu achava espetacular. Essa mistura gera uma variedade de resultados que me agrada bastante e também consegue dar ao público corridas diferentes. O problema da Indy, para mim, está bem mais na questão de ter perdido o aspecto multimarcas.

GP — Brasília cancelou a corrida às vésperas do campeonato de 2015. Qual a chance de ter uma corrida no Brasil novamente?
AR — Eu acho que nenhuma. Primeiro porque o que aconteceu em Brasília, independentemente das razões e causas, é visto por quem investe na categoria como falta de seriedade. Segundo porque o Brasil passa por um momento político, econômico e social em que não cabe uma corrida desse tamanho.
GP — 20 anos depois, qual é a sua ligação com o automobilismo?
AR — Minha ligação é grande porque minha vida gira em torno de automóvel. Tive a chance de correr, de organizar campeonatos, de gerenciar uma pilota e, nos últimos 15 anos, venho trabalhando com as concessionárias, o que se tornou minha principal ocupação. Tudo que ganhei no automobilismo de recursos financeiros e relacionamentos eu trouxe para o Brasil e investi no que faço hoje. Foi a partir do automobilismo que construí tudo que faço hoje. Amigos, parceiros, muitas pessoas que eu admiro, a minha mulher. Conheci todos eles no automobilismo, então tenho uma ligação bem grande com o automobilismo na minha vida.
GP — E 20 anos depois, o que você mudou?
AR — Mudei muito, graças a Deus, né? Acho fundamental ter mudanças e evoluções na vida. Naquela época eu era um piloto de corrida e ponto. Hoje eu sou um ex-piloto, tenho as responsabilidades de empresário em um momento conturbado de Brasil, tenho responsabilidades sobre muitos funcionários e tantas famílias, sou casado, tenho filhas. A mudança é imensa. Mas uma coisa não mudou: a paixão por fazer tudo bem feito.
GP — Alguma curiosidade ou segredo da época de piloto?
AR — Segredo, não, mas revivi algo bem bacana na semana passada. Sempre tive uma fé muito grande e a canalizei na imagem de Nossa Senhora. Em 1996, minha mãe pediu para que eu carregasse a imagem de Nossa Senhora comigo e a corrida no Rio foi a segunda de um ano cheio de coisas muito especiais para mim. Nas 500 Milhas de Michigan, durante uma das bandeiras amarelas, prometi que, se ninguém se machucasse naquela corrida cheia de acidentes fortes, encheria meu capacete de imagens da Nossa Senhora. E assim foi. Depois, levei esse capacete lá para Aparecida e essa energia de vê-lo lá é sempre muito boa para mim, isso é uma das coisas que eu guardo com muito carinho.
FONTE: GRANDE PREMIO